Cessão de Marcas. Sucessão e Responsabilidade Trabalhista
Marcos Fernandes Gonçalves • 15 de janeiro de 2020
Cessão de Marcas e Patentes
Setor estratégico no mundo dos negócios: transferência de propriedade intelectual, em especial marcas e patentes. Sua comercialização é antiga, mas com o crescimento das empresas especialmente no campo tecnológico, além de maior interesse por seu valor negocial, a tendência é a ampliação de transações envolvendo direitos intelectuais.
Formas mais comuns de transação sobre propriedade intelectual:
- Contrato de cessão do uso de marcas e patentes
- Transferência de know-how.
No primeiro caso, normalmente se utiliza a expressão contrato de licença para uso de marca. Cedente é quem transfere o uso da marca, cessionário é quem dela faz uso.
Transferência de marca ou patente pode envolver contrato de franquia, como previsto, expressamente, no art. 2º, da Lei 8.955/94, sendo, inclusive, a hipótese mais comum no âmbito trabalhista.
Ainda que a cessão de marcas não envolva franchising, a transferência comercial não está isenta de gerar reflexos no contrato de trabalho, sobretudo quanto à sucessão de empregadores.
Cessão de marcas e patentes. Responsabilidade quanto ao passivo trabalhista
Questão comum nos tribunais trabalhistas: empregador insolvente cede o uso de marca e deixa de pagar créditos dos empregados, porque encerrou atividades ou não tem patrimônio para quitar débitos trabalhistas.
Há várias implicações:
- o passivo trabalhista acompanha a cessão de marcas?
- Assumiria o cessionário da marca débitos trabalhistas do cedente?
- Somente se houver continuidade na prestação de serviço dos trabalhadores?
Esse tema está inserido na responsabilidade trabalhista decorrente da sucessão do empregador, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT. Consulte a respeito: Sucessão de Empresas e Responsabilidade Trabalhista
Em princípio, a transação comercial de bens pertencentes ao estabelecimento não demanda responsabilidade de quem é parte estranha na relação jurídica entre o cedente e seus credores.
Regra que comporta exceção, nos termos do artigo 1.146 do CC: o adquirente do estabelecimento e o devedor primitivo respondem solidariamente pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência[1].
Cessão de marcas e patentes. Responsabilidade no Direito Empresarial
O Código Civil não conceitua empresa, mas empresário e estabelecimento (art. 1.142), que é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos. “Entram no estabelecimento comercial o estoque de mercadorias, os imóveis, as instalações e, no tocante aos bens incorpóreos, as patentes, marcas e inclusive serviços”[2].
Quanto à natureza jurídica, estabelecimento é bem coletivo ou, como conceitua a doutrina, universalidade: conjunto de mercadorias, imóveis, instalações, patentes, etc.
Tradicionalmente, entendia-se que estabelecimento abrangia somente bens ativos. Mas, o atual CC inova[3], determinando que o adquirente responda por pagamento de débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.
Essa universalidade abrange relações jurídicas ativas e passivas, de modo que sua cessão deve incluir contratos utilizados na exploração do estabelecimento, como, p. ex., leasing e locação[4]. Essa, aliás, a sub-rogação que trata o artigo 1.148, do Código Civil.
A jurisprudência considera inclusos nessa responsabilidade os contratos de trabalho, notadamente porque a força laboral, no mínimo, contribuiu para mantença do estabelecimento, inclusive quanto aos bens incorpóreos que acompanharão o desenvolvimento comercial do cessionário.
Pode ocorrer de o cedente alienar apenas parte da universalidade – como, p. ex. só a marca –, permanecendo o estabelecimento em atividade. Pela interpretação conjunta dos artigos 90, parágrafo único, e 1.145, do CC, a responsabilidade solidária permanece, sendo ineficaz a transferência do negócio se ao alienante não restarem bens suficientes para solver seu passivo.
Cessão de marca e influência nos contratos de trabalho
A marca é direito incorpóreo e pertence ao estabelecimento. Em princípio, é coisa singular, mas sua importância, diante da atividade empresarial que a concebe, pode confundi-la com a própria universalidade; conforme o caso, sua cessão pode afetar significativamente garantias dos contratos laborais anteriores.
Para se considerar cessão de marca como sucessão de empregadores, há três variáveis:
- cessão de marca acompanhada da continuidade na prestação dos serviços dos empregados do cedente;
- cessão de marca que implique alteração significativa da garantia relativa aos contratos de emprego anteriores à transferência;
- cessão de marca acompanhada da continuidade da atividade empresarial (frequente, inclusive, nos contratos de franquia). Esta última, aliás, independe das anteriores.
Havendo continuidade na atividade empresarial com a cessão de marca, praticamente não há divergência quanto à sucessão prevista nos artigos 10 e 448 da CLT. Nesse caso, o cedente da marca transfere parte ou totalidade de seu patrimônio para outra já existente, ou constituída para essa finalidade, que levará adiante aquela atividade empresarial.
Esse entendimento visa a evitar, por exemplo, simulação em que a atividade do cedente da marca é exercida pela cessionária, muitas vezes estabelecida em antigo endereço da empresa anterior; esse tipo de estratégia pretende mascarar continuidade da cessionária, por meio de comercialização dos mesmos produtos, com a mesma marca nos mesmos locais.
Na sucessão de marca, a responsabilidade é solidária, podendo o cessionário obter ressarcimento do cedente, em face das obrigações trabalhistas que assumir.
Cláusulas de não responsabilização trabalhista pela cessão
Para se resguardar de possíveis ações judiciais que incidam sobre o bem, o adquirente de marca deve verificar o que possa acompanhar o objeto da cessão. É disputada a comercialização de marcas sedimentadas no mercado, mas esse tipo de negócio não pode prejudicar contratos de trabalho anteriores à transferência do bem.
Pacífico na doutrina e jurisprudência que cláusulas de não responsabilização, em que se estipula início da responsabilidade trabalhista do cessionário, em geral a partir da transferência, não têm valor para o Direito do Trabalho, dado o caráter imperativo dos artigos 10 e 448 da CLT[5].
Conclusão
Apesar de fundamentada, critica-se a extensão da proteção ao crédito trabalhista na transferência de marcas, notadamente por impedir a livre comercialização empresarial.
De qualquer forma, o contrato de trabalho guarda certa particularidade: depois de prestada não há como devolver a força de trabalho ao status quo ante. Nessas condições, afronta o valor social do trabalho
(art. 1º, IV, da CF) a parte mais fraca na relação econômico-jurídica ficar à revelia de transações comerciais sem que lhe seja garantido seu crédito.
Há de se ter em conta, entretanto, que o labor intelectual passivo de gerar direito autoral envolve, em regra, trabalhador de elevado nível técnico, pelo que, considerando o atual regramento juslaboral, raramente prevalecerá o princípio in dubio pro operario.
A hipótese deverá ser considerada caso a caso.
Consulte também:
Notas
________________________________________
[1] Ainda que nos limites estabelecidos por esse dispositivo legal, como, p. ex., o prazo de um ano.
[2] Cf. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, in Empresa, empresário e estabelecimento. A nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado [da Associação dos Advogados de São Paulo]. Direito Empresarial no Novo CC. São Paulo: AASP, nº 71, p. 15-25, ago./03, p. 19.
[3] No claro intuito de proteger os credores [Idem, ibidem, p. 20].
[4] Idem, ibidem, mesma p.
[5] Cf. Mauricio Godinho Delgado, Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009, p. 399.
Imagem: pixabay/KRYoS42/ideia
Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons
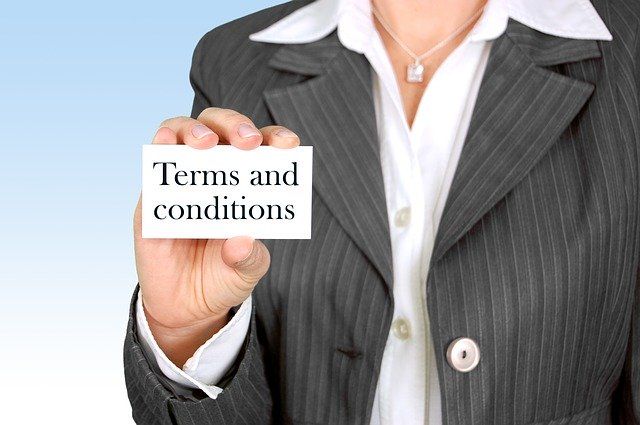
A cláusula de não concorrência é autorizada no contrato de trabalho, desde que respeitado o disposto no artigo 444 da CLT. No entanto, indaga-se se a restrição ao exercício da liberdade de trabalho (artigo 5º, XIII, da CF), que permite ao empregado ganhar seu sustento, afrontaria o princípio da dignidade humana.
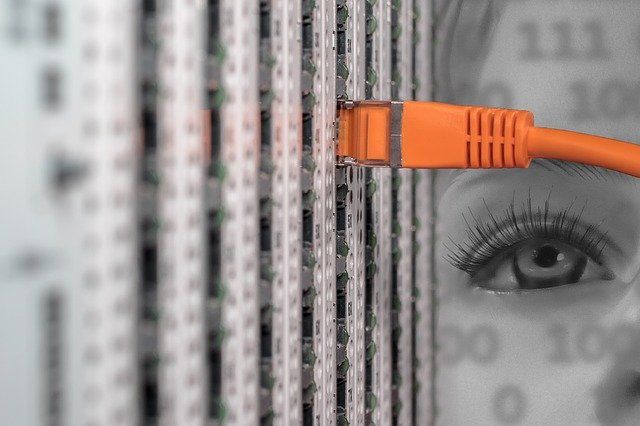
Dentre as questões trabalhistas ligadas ao trabalho intelectual, destaca-se a inserção de cláusula de não concorrência no contrato de trabalho , que é uma restrição de atuação do ex-empregado para evitar a concorrência indevida. Cláusula consignada especialmente nos contratos de trabalhadores com acesso a procedimentos técnicos e informações privilegiadas, passíveis de proteção pelo empregador, em face da concorrência. Em geral, essa contratação tem sido utilizada para trabalhadores que possuem cargos de maior responsabilidade na organização empresarial, normalmente os CEOs ( Chief Executive Officer ), no jargão do mercado de trabalho - no âmbito jurídico: cargo de altos poderes e gestão . Mas, profissionais da área de tecnologia de informação (TI), que costumam ter acesso a processos estratégicos/confidenciais da empresa em que prestam serviços, também firmam contratos com essa condição restritiva. Consulte: Limites da cláusula de não concorrência: liberdade de trabalho Objetivos da cláusula de não concorrência no contrato de trabalho Objetivo: resguardar técnicas, procedimentos ou informações, a que tenham acesso os empregados – em razão de cargo de confiança que exerçam, pelas circunstâncias do trabalho, ou pelo contato com clientes. A questão de fundo é concreta: evitar vazamento de informações. Daí a proteção por meio da cláusula de não concorrência, vigente não só durante o contrato, mas após a rescisão, até certo tempo e em determinada localidade. Concorrência e concorrência desleal Há diferença entre a concorrência, conforme sua configuração no campo trabalhista, e a concorrência desleal, figura do direito penal. Assim, se a prestação de serviços do trabalhador implicar em concorrência que prejudique a atividade do empregador será considerada ilícito trabalhista, independentemente do previsto no artigo 195 da Lei 9.279/96, embora possa ser, ao menos, um paradigma - p. ex., incisos IX, X e XI, que consideram ilícito penal hipóteses envolvendo o contrato de trabalho [1]. De todo modo, no âmbito do Direito Privado a configuração da concorrência desleal é bem mais ampla que a definição criminalista: nullum crimen nulla poena sine lege [2]. Livre concorrência O princípio constitucional da livre concorrência (art. 173, § 4º, CF) é contraponto à possibilidade de se inserir cláusula de não concorrência no contrato. De fato, a ordem econômica prima pela liberdade de concorrência (CF: artigo 170, IV, c/c artigo 5º, XIII), razão pela qual o empregador pode se resguardar quanto à competição desleal, mas, não, impedir que o empregado exerça atividade negocial regular [3]. Em suma, o que não for reserva de mercado, em sentido amplo, ou o que não limite direito ao livre exercício do trabalho (salvo exceções que a lei estabelecer) pode ser objeto de salvaguarda do empregador. Fundamentos da cláusula de não concorrência no contrato de trabalho Na legislação trabalhista não há previsão legal expressa sobre a concorrência indevida, a não ser o disposto no artigo 482, “c”, da CLT, que a considera fundamento para dispensa por justa causa; i ndiretamente, o artigo 444 da CLT, que autoriza disposições contratuais. De todo modo, compõem o fundamento da cláusula de não concorrência os princípios: Boa-fé contratual Lealdade do empregado Dever de diligência Desses três princípios decorre o dever de sigilo. Dever de sigilo A obrigação de sigilo é dever jurídico alicerçado em pressuposto ético: necessidade de resguardar informações relativas à atividade profissional. Há obrigação, portanto, de não revelar o que se sabe. Em alguns casos, é da natureza da profissão o dever de sigilo [4]. É hipótese comum no campo da espionagem industrial, de tal sorte que métodos de trabalho (know-how), segredos de fabricação e invenção, são cobiçados pela concorrência desleal. Atualmente, maior objeto de cobiça é o desenvolvimento de softwares e tecnologia da informação (TI). A violação de sigilo (ou segredo) é, também, considerada crime, nos termos do artigo 195, XI, da Lei 9279/96. Prevenção do passivo trabalhista Afora a observância legal sobre o que se pode contratar, a cláusula de não concorrência deve especificar, p. ex., carteira de clientes, local de atuação, tempo de restrição e, principalmente, objeto pactuado e a contraprestação ao empregado. O tempo em que se dará o limite de atuação do ex-empregado é matéria controversa nos tribunais. A regra básica é respeitar os limites constitucionais aplicáveis à matéria. Consulte: Violação de segredo de empresa e demissão por justa causa Direito de software e contrato de trabalho Invenção e propriedade Industrial no contrato de trabalho Know-how no contrato de trabalho Referências ________________________________________ [1] Cf. Regiane Teresinha de Mello João, Cláusula de não concorrência no Contrato de Trabalho. – São Paulo : Saraiva, 2003, p. 13 [2] Cf. Carlos Alberto Bittar, Teoria e Prática da Concorrência Desleal – São Paulo : Saraiva, 1989, p. 39. [3] Cf. Regiane Teresinha de Mello João. ibidem, p. 25 e ss. [4] Cf. Wagner D. Giglio, Justa Causa – 7ª ed. rev. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2000, p. 96. Imagem: pixabay/blickpixel Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons
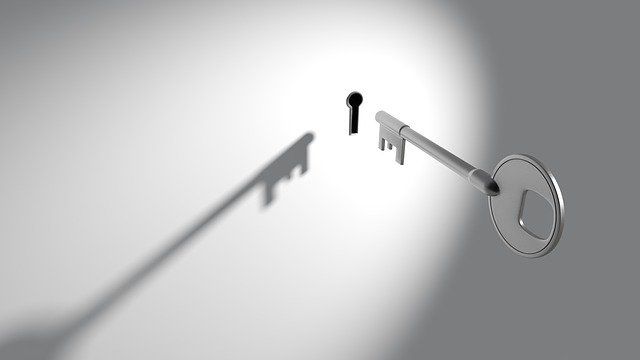
Segredo empresarial: bem corpóreo ou imaterial composto por informações, práticas, fórmulas, processos, instrumentos, design , compilações ou dados, em conjunto ou isoladamente, que se relacionam ao negócio da empresa. Fundamentos jurídicos no aspecto trabalhista : para o bom êxito do negócio, deve haver colaboração do empregado, bem como sua obrigação de lealdade (princípio da boa-fé, artigo 422 do Código Civil); Consequências: demissão por justa do empregado. Violação de segredo da empresa e contrato de trabalho Pode ocorrer violação de segredo no contrato de trabalho, especialmente por tecnologias que permitem acesso a procedimentos estratégicos do empregador, Mais grave a violação se o conhecimento do segredo é necessário ao exercício das funções do empregado. Violação de segredo de empresa como fundamento da dispensa por justa causa Segredos de fabricação, patentes, escrita comercial, dados digitais, dos quais o empregado tenha acesso pelo exercício de suas funções, não podem ser revelados a terceiros, sobretudo concorrentes do empregador. O dano causado pela violação desse dever é fundamento para demissão por justa causa, nos termos do artigo 482, “g”, da CLT, consideradas as seguintes condições: Os segredos da pessoa física do empregador, sem ligação com o contrato, não se comparam com segredos de empresa; Não há impedimento para que o empregado tenha conhecimento de segredo em razão da função que exerce, o que não se permite é a divulgação ; O empregador deve ter intenção de não divulgar o segredo; Deve haver efetivo prejuízo para o empregador, ainda que em potencial. Responsabilidade pela divulgação do segredo Para configuração da justa causa, não há necessidade de o empregado agir com intenção de prejudicar o empregador, sendo suficiente a ciência de que o fato a ser revelado constituía segredo e que, deliberadamente, foi tornado público. Havendo esse intuito, a falta será gravíssima [1]. Se o segredo é revelado por imprudência ou negligência, o fundamento para dispensa não é o do artigo 482, “g”, da CLT, mas desídia ou mau procedimento [2]. Embora não seja obrigatória a comunicação, é aconselhável ao empregador, para evitar alegações de ignorância do caráter secreto do fato, avisar os empregados a respeito da necessidade de se manter sigilo [3]. Violação do segredo de empresa: avaliação da falta grave Cabe avaliar se há, em concreto, segredo e se é da empresa; num segundo momento, se houve efetiva violação; e, por fim, se configurou falta grave [4]. Não é requisito essencial a prática reiterada, bastando ato único, conforme sua gravidade. Violação do segredo, mas sem revelação (vice-versa) Pode haver violação de segredo de empresa, sem que haja revelação. Exemplo: o empregado usa o segredo em proveito próprio e, por isso, pratica concorrência desleal[5]. Caso o empregador comunique o segredo ao empregado, mas este não o divulga de forma que prejudique a empresa, não há violação. Facilitação da violação do segredo Exemplo: o empregado deixa em sua tela do computador fórmula secreta do empregador, que é copiada por terceiro. Duas questões surgem desse fato: • Se o empregado agiu com intenção de violar o segredo, está configurada a falta grave com fulcro no artigo 482, “g”, da CLT; • Inexistindo dolo, não há falta grave com esse fundamento. Eventualmente, poderá configurar desídia ou mau procedimento. Pode-se argumentar que a culpa leve ou levíssima pertencem ao âmbito dos riscos do negócio, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT, pelo que não caberia justa causa. Revelação parcial e tentativa de violação do segredo Dependendo do objeto do segredo, faltando alguma parte não há como o tornar efetivo [6]. Entretanto, pelo atual estágio da tecnologia, sobretudo quanto ao desenvolvimento de software, mesmo obtendo apenas parte do segredo é possível à concorrência desenvolver o complemento faltante. Nesse caso, parece razoável a configuração de falta grave por violação de segredo. Quanto à tentativa : se a revelação não se completa, por razões alheias à vontade do empregado, não há violação de segredo, que não foi totalmente desvendado, mas, conforme o caso, poderá se configurar desídia ou mau procedimento. Revelação de segredo ilícito à autoridade pública A revelação da ilegalidade à autoridade pública não constitui violação de segredo de empresa, porque o empregado não pode ser conivente com a lesão a terceiros, com pretexto de proteger interesses ilícitos do empregador[7]. A apuração do fato, contudo, deve ser cautelosa. Isso porque o empregado, na revelação do segredo, pode agir motivado por razões que não visem a proteger direitos de terceiros [8]. Violação do segredo de empresa após extinção do contrato e cláusula de não concorrência Não há de se falar em punição do empregado, havendo revelação de segredo após extinção do contrato de trabalho. Por essa razão, muitas empresas têm incluído no contrato cláusulas proibindo violação de segredo, após desligamento da empresa. A cláusula de não concorrência tem por objetivo impedir que o empregado atue no mesmo seguimento do antigo empregador, por determinado período de tempo, ou localidade, sob pena de propiciar que outras empresas, ou mesmo o ex-empregado, exerçam concorrência desleal. A jurisprudência, em geral, considera nula cláusula de não concorrência sem contrapartida ao empregado. Ilícito penal e civil A violação de segredo de empresa também pode se configurar crime de concorrência desleal , nos termos da Lei 9.279/96, afora o disposto no artigo, 325, “caput”, do Código Penal. Por outro lado, pode haver consequências ao empregador, por submeter o empregado a constrangimento ilegal. A própria dispensa por justa causa sem fundamento pode sujeitar o trabalhador, conforme o caso, à situação vexatória diante dos colegas de trabalho (notadamente em razão do princípio de presunção de inocência), com consequências, inclusive, no âmbito civil. Prevenção do passivo trabalhista A precaução básica é a fiscalização pelo empregador. As medidas protetivas do segredo empresarial devem vir acompanhadas de normas internas. Exemplo: ciência expressa de que determinada base de dados seja sigilosa. Eventual demissão por justa causa deve ser imediata, ainda mais por se tratar de falta caracterizada por ato único. A indevida penalização por falta grave pode não só ser revertida, como ensejar reparação por danos morais. O mesmo se diz quanto a acusações falsas, que podem ter reflexos no âmbito penal e civil. De outra parte, cabe ao empregador ressarcimento pela violação do segredo de empresa. Consulte também: Invenção e propriedade Industrial no contrato de trabalho Direito de software e contrato de trabalho Know-how no contrato de trabalho Cessão de Marcas. Sucessão e Responsabilidade Trabalhista NOTAS ________________________________________ [1] Cf. Wagner D. Giglio, Justa Causa – 7ª ed. rev. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2000, p. 196. [2] Id., ibid., mesma p. [3] Id., ibid., p. 195. [4] Id., ibid., p. 186. [5] Id., ibid., mesma p. [6] Id., ibid.,, p. 190. [7] Id., ibid., p. 191. [8] Id., ibid., p. 192. Imagem: pixabay/qimono Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons

A contratação de PJs pelas empresas já vem sendo praticada há algum tempo, especialmente pela abertura dada pelo artigo 129 da Lei 11.196/2005. Mais recentemente, com a Reforma Trabalhista, abriu-se mais uma porta para contratação de PJs, na forma de terceirização, com a alteração de algumas disposições da Lei. 6.019/74. Contudo, essa norma trouxe requisitos de validade, que, na prática, dificultam a contratação. Também com a Reforma formalizou-se expressamente a possibilidade de contratação de autônomos, conforme o disposto no artigo 442 –B, da CLT. A permissão legal não impede, entretanto, que haja fraude na contratação. O contrato de autônomo jamais foi proibido, pelo que nem precisaria o legislador ter positivado a questão. O problema não está na formalização, mas como o contrato é executado no mundo dos fatos. O vínculo de emprego é "contrato realidade" e, por isso, prevalece sobre estipulações contratuais. Possibilidade de contratação de PJs Ao contratar trabalhador como PJ, as empresas devem tomar certos cuidados para que essa prestação de serviços não seja considerada fraude à legislação trabalhista. Ocorrendo a simulação contratual, o que poderia ser redução de custos pode se tornar grande problema para a empresa contratante. Não há impedimento para contratar pessoa jurídica como prestador de serviços, desde que atue, de fato, como empresário: com total autonomia , assumindo os riscos do seu negócio. Há certa simetria na relação serviços/tipo de prestador: Autônomo exerce atividade por conta própria - com liberdade e autonomia; Empresário atua de modo comercial/empresarial - com liberdade e autonomia, assumindo os riscos do negócio; Empregado atua de forma subordinada - recebe ordens, não tem autonomia e está sujeito a controle de jornada. Não é rara a contratação formal de PJ, que, na prática, atue de forma subordinada, ou seja, dirigindo o empregador a prestação dos serviços. Aí começam os problemas. Conforme artigo 3º da CLT: “ considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” . Se o PJ trabalha nessas condições não é empresário, mas empregado. Em suma: se no mundo dos fatos o prestador de serviços enquadra-se na hipótese prevista no art. 3º, da CLT, não há de se falar em contratação de pessoa jurídica. A Lei 11.196/2005 não transforma o empregado em empresário. O mesmo se diz para o contrato escrito. Características do trabalhador PJ As relações de emprego não tiveram alteração com a entrada em vigor do artigo 129 da Lei 11.196/95, que permite a contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços intelectuais. A contratação de empregado como falso PJ é fraude, portanto, sujeita à nulidade, a ser reconhecida pelo Poder Judiciário. Pode ser caracterizado contrato nos moldes da CLT, se o prestador de serviços trabalhar: Com pessoalidade (não podendo ser substituído por outro); Com continuidade; Recebendo ordens do contratante; Sob controle de horário; Características elementares do trabalhador PJ: Autonomia na execução de suas atividades; Impessoalidade: pode ser substituído por outro trabalhador, por sua conta e risco; Não pode se submeter a controle de horário estabelecido pela contratante; Assume os riscos do negócio. Como descrito no art. 129 da 11.196/95, a contratação de PJ restringe-se ao trabalho intelectual (inclusive os de natureza científica, artística ou cultural). Rigorosamente, portanto, não estaria permitida a contratação de PJ fora do limite estabelecido na referida lei, a menos que se considere válida a contratação de outro tipo de trabalhador, com fundamento na Lei. 6.019/74. Mas, essa última hipótese não está pacificada nos tribunais. Prevenção do Passivo Trabalhista A permissão legal para contratação de trabalhador como PJ traz apenas presunção relativa de que o contrato foi firmado nesse molde. Provado que o prestador de serviços laborou na forma prevista no artigo 3º da CLT, respectivo contrato pode ser anulado judicialmente, resultando no pagamento de todos os direitos trabalhistas ao prestador de serviços. Precauções na contratação do PJ A empresa deve estar atenta na contratação do trabalhador PJ, evitando, assim, futuras ações judiciais. Elaborar contrato escrito; apesar da possibilidade de anulação, garante à empresa ao menos a vantagem do ônus da prova , que, nesse caso, recairá sobre o prestador de serviços que ajuizar a demanda. Cláusulas imprescindíveis ao contrato Forma da prestação de serviços; Forma da contraprestação dos serviços (“remuneração”); Sobre a impessoalidade na prestação dos serviços; Descrição da autonomia na prestação de serviços do contratado. A emissão de notas fiscais pelo contratado e respectivo comprovante de pagamento de impostos são medidas indispensáveis. Imagem: pixabay/StartupStockPhotos Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons
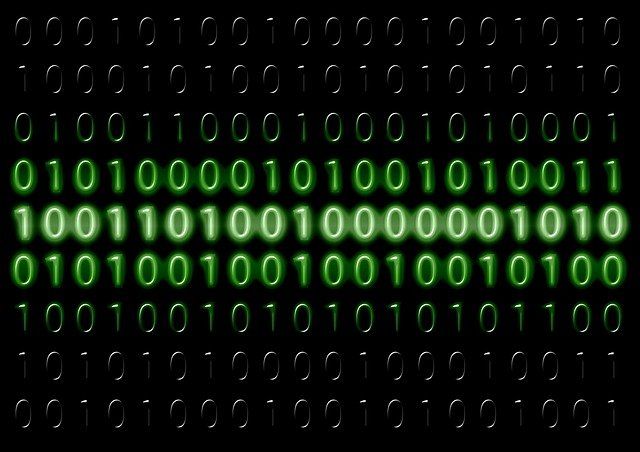
O artigo 4º da Lei 9.609/98 segue a mesma linha adotada pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), no que se refere ao trabalho intelectual decorrente do contrato de trabalho, como objeto do mesmo ou em face da execução ou circunstâncias contratuais: Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário. Mesma inferência para trabalhadores autônomos, terceirizados, servidores, bolsistas, estagiários e assemelhados. Curiosamente, o legislador do software trouxe a mesma ambiguidade contida na Lei de Patentes, no que se refere à expressão “remuneração”. Modelo de utilidade vs. reserva dos direitos de software A Lei de Software cuidou do “modelo de utilidade” (aperfeiçoamento) de modo diverso do que trata a Lei de Patentes. Faz sentido a diferenciação se considerada a natureza típica do software: o artigo 5º da Lei 9.609/98 só autoriza aperfeiçoamento do trabalho intelectual com autorização do autor originário. É a hipótese de reserva de direitos , característica do direito de software: a derivação do programa de computador deve ser autorizada pelo titular da obra original; o mesmo se diz para sua exploração econômica. Assim, mesmo que haja aperfeiçoamento da obra, respectivos direitos permanecem com o autor originário, salvo estipulação em contrário (faculdade do titular, portanto). Essa reserva tem relação com a especificidade dos programas de computador: a maioria possui códigos “fechados”, ou seja, não se permite alteração, sob pena de se eliminar sua forma original, criando-se inúmeras versões diferentes, o que, inclusive, facilita a pirataria. Os softwares livres minam consideravelmente essa restrição porque permitem direitos de derivação. Enfim, em sendo objeto do contrato a criação de software pelo empregado, a exploração comercial pertencerá exclusivamente ao empregador (a autoria, direito personalíssimo, pertence ao empregado). Direito de software sem relação com o contrato de trabalho Nos termos do artigo 4º, § 2º, da Lei de Software, a criação intelectual pertencerá exclusivamente ao empregado se: Não prevista no contrato Não seja decorrente do contexto contratual Não sejam utilizadas ferramentas e equipamentos do empregador O mesmo ocorrerá com o trabalhador autônomo e o servidor público. Direito de software favorecido pelo contexto contratual É a hipótese concernente à criação intelectual que não tem previsão contratual nem tem origem na execução do contrato, mas realizada com a utilização de ferramentas e equipamentos do empregador. O artigo 4º, § 2º, da Lei de Software, diversamente da Lei de Patentes, determina que: Só pertencerão ao empregado, prestador de serviços, e servidor estatutário, direitos concernentes a programa de computador se inexistir utilização de instrumentalização propiciada pelo empregador, contratante dos serviços, ou órgão público. Em outras palavras, utilizando-se o empregado de equipamentos de quem o contratou, deste serão os direitos de exploração do trabalho intelectual, ainda que tenha relação somente circunstancial com o contrato de trabalho. Essa diferenciação serve, inclusive, como proteção de segredo de empresa e da livre concorrência, embora, reconheça-se, essa matéria seja tratada por legislação específica. Direitos autorais e trabalho intelectual A Lei 9.610/98 (Direitos Autorais) não confere ao empregador a mesma proteção que lhe concederam as Leis de Propriedade Industrial e Lei de Software, apesar de latente à possibilidade de o empregado se utilizar de instrumental do empregador para criar obra autoral – em especial no campo das telecomunicações. A Lei de Direitos Autorais segue a coerência do sistema que rege: garantia para quem produz a obra, literária, artística ou científica, bem como a exclusividade de autorizar sua reprodução. Prevenção do passivo trabalhista Cabe ao empregador fiscalizar a execução contratual e as circunstâncias que favorecem a criação de software, especialmente porque pertencerão ao empregado os direitos concernentes a programa de computador somente se inexistir utilização de equipamentos propiciados pelo empregador. A utilização de instrumental da empresa – sem autorização do empregador – pode se caracterizar ato de indisciplina ou insubordinação , ensejando, portanto, demissão por justa causa do empregado. Em sendo objeto do contrato a criação de software, a contraprestação estará embutida no próprio salário. A previsão contratual pode especificar questões relativas à utilização de instrumental do empregador. Também, a divisão de direitos de exploração do software entre empregado e empregador, na hipótese de proveito de circunstância contratual para criação da obra. Consulte também : Invenção e propriedade Industrial no contrato de trabalho Know-how no contrato de trabalho Cessão de Marcas. Sucessão e Responsabilidade Trabalhista Imagem: pixabay/geralt Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons
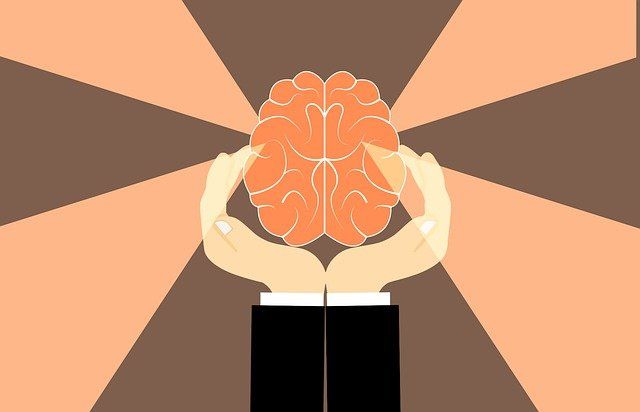
Direitos intelectuais: garantem ao autor vantagens materiais e morais da produção de obra científica, literária ou artística, na forma da lei. Direito de propriedade industrial e contrato de emprego A matéria também é tratada como direito de invenção, termo utilizado pelo Código de Propriedade Industrial (art. 88 da Lei n. 9.279/96): Invenção : criação de nova tecnologia, processo, objeto ou sistema de relações Modelo de utilidade : aperfeiçoamento de tecnologias, processos e objetos pré-existentes A CLT regulava a matéria em seu artigo 454, que atualmente é tratada pela Lei 9.279/96. Há três previsões sobre a matéria: Trabalho intelectual como objeto do contrato Regra geral: a invenção e o modelo de utilidade pertencem ao empregador se decorrentes do próprio contrato de trabalho (art. 88, caput , da Lei 9.279/96). Ou seja, o trabalho intelectual é objeto do próprio contrato de emprego. Exemplo: empregado é contratado para inventar eletrodoméstico. Nesse caso, a retribuição ao empregado, salvo disposição contratual em contrário, está embutida no próprio salário (art. 88, § 1º). Mesmo que o contrato não seja formulado para esse fim, se na execução de suas atividades, o empregado realizar trabalho intelectual, também pertence ao empregador (parte final do caput do artigo 88). O legislador limitou esse direito ao contrato cuja execução ocorra no Brasil; se o executado no exterior, o titular da patente será o empregado. Há presunção relativa de que a invenção foi desenvolvida na vigência do contrato se a patente for requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício. Trabalho intelectual sem relação com o contrato Nos termos do artigo 90, da Lei 9.279/96, pertence exclusivamente ao empregado os direitos de invenção ou modelo de utilidade se o trabalho intelectual: Não esteja previsto no contrato Não decorra do contexto contratual Não sejam utilizadas ferramentas e equipamentos do empregador Trabalho intelectual favorecido pelo execução do contrato Por ser o vínculo de emprego “contrato realidade”, é comum que produções, invenções, criações em geral, surjam da própria execução das atividades do empregado, mesmo que não haja previsão contratual. Daí a norma cogitar de o trabalho intelectual surgir da execução contratual, ou seja, do seu contexto. Assim, embora sem previsão contratual e não decorrente da execução das atividades laborais, são inventos e modelos de utilidade criados pelo empregado com a utilização de equipamento do empregador (artigo 91, caput , da Lei 9.279/96). Desse modo, a propriedade da invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, a empregador e empregado ; sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida entre todos, salvo ajuste em contrário. A contraprestação pela invenção não tem natureza salarial, apesar de o legislador utilizar a expressão “remuneração”. O aspecto teleológico não pode ser outro senão contraprestação por serviços fora do âmbito celetista. A divisão em partes iguais é faculdade do empregador, porque o artigo 91, caput , cogita de disposição contratual em contrário. As demais previsões constantes da Lei 9.279/96 não ensejam maiores indagações. Destaque-se que as mesmas disposições relativas ao empregado aplicam-se, no que couber, às relações jurídicas firmadas com o autônomo, o estagiário, a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas (artigo 92). Direitos intelectuais do contrato de trabalho e competência processual Levando em conta a nova competência processual da Justiça do Trabalho, conforme artigo 114 da CF, o juiz do trabalho é competente para conhecer das questões relativas aos direitos de invenção, ainda que autônomo o trabalhador. O artigo 93 cuida da invenção criada pelo servidor público. Se estatutário, a competência é da Justiça Comum; se contratado nos termos da CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. Prevenção do passivo trabalhista O direito de invenção no âmbito trabalhista, embora atualmente pouco utilizado, tem potencial para se expandir na Era Tecnológica. O campo é vasto: indústria química, petrolífera, nanotecnologia, robótica, biotecnologia, entre outras. A fiscalização do empregador é importante no que se refere ao contexto que favorece a criação do direito intelectual, isto é, para auferir se a invenção se dá fora da previsão ou execução contratual e se utilizado, ou não, o instrumental do empregador. Possíveis previsões contratuais Sobre a contraprestação, ainda que a invenção não seja objeto do contrato de trabalho, até porque a lei não esclarece o que seja justa remuneração (§ 2º, do art. 91); O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da respectiva exploração; Sobre a terceirização, sobretudo porque a lei não define a quem cabe o direito de patente caso o inventor seja o trabalhador terceirizado. Sobre direitos de obra destinada ao uso interno da empresa; se não há comercialização da patente, não há de se falar em proveito do empregado (embora mantenha a autoria). A matéria é controversa, afinal há proveito econômico indireto do empregador – em que pese o disposto no art. 456, parágrafo único da CLT. Consulte também: Direito de software e contrato de trabalho Know-how no contrato de trabalho Cessão de Marcas. Sucessão e Responsabilidade Trabalhista Terceira Revolução Industrial e Automação do Trabalho Imagem: pixabay/mohamed_hassan Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons

Know-how é o desenvolvimento de processos funcionais de atividade ou objeto, tal que seu criador mantenha conhecimentos secretos e originais quanto à sua aplicação (a expressão, em tradução livre, significa: “saber como”). Know-how: processo criativo que gera direitos (comercializáveis, portanto); Contrato de know-how : instrumento de transmissão desse processo [1]; Não é patenteado. Consulte também: contrato de franquia e responsabilidade trabalhista Know-how e Invenção Não se confunde com invenção; enquanto o know-how é processo de realização, original e secreto[2], a invenção é patenteada e pública. Patenteado, o procedimento perderia sua valia, pois se tornaria do conhecimento público. Do processo criativo, como um todo, ocorrerá de se destacar um ou outro elemento que, individualmente, poderá ser considerado direito de autor ou de software (vídeos, gráficos, desenhos, etc.). Elementos do know-how habilidade : elemento pessoal que requer certas qualidades do agente; experiência : resultado da continuidade da experimentação. conhecimentos técnicos : suporte para a habilidade e a experiência; processo : modo original que o portador do know-how , com sua habilidade, experiência e conhecimentos, utiliza para obtenção do resultado; segredo : não pode o know-how ser de conhecimento de terceiros; novidade — o processo a ser posto em prática deve ser original [3]. Natureza jurídica do know-how É bem imaterial, podendo ser corpóreo à medida que for transferido por desenho, gráfico e outros métodos que configurem o procedimento, mas em seu conjunto, notadamente pela técnica empregada, continuará sendo imaterial [4]. Know-how e assistência técnica não se confundem. No primeiro caso transmite-se bem imaterial, enquanto o segundo trata apenas de prestação de serviços, sem conotação de segrego ou originalidade. Não há identidade, também, com o segredo de fabricação[5]. Transferência de know-how Em se tratando de um bem, pode ser transferido por quem o possui, pessoa física ou jurídica, a outrem, por tempo determinado, ou não. A transferência será feita, em caráter temporário, mediante licença; ou em definitivo, mediante cessão[6]. Processo criativo nas relações de trabalho A tendência do Direito do Trabalho é tratar, também, de direitos intelectuais, desde que decorrentes do contrato de emprego, neles aplicando princípios que lhe são próprios. Como num círculo virtuoso, a realidade tecnológica exige alto grau de especialização do trabalhador, que é obrigado a aumentar o número de anos em que se dedica ao estudo e à profissionalização. A qualificação do trabalhador resulta em maior produtividade e lucros para o empregador, influenciando diretamente a criação de ativos materiais e imateriais, mobilizando-os para criar inovações. Trabalho intelectual decorrente do contrato de emprego Natural que nos contratos de trabalho o prestador de serviços, cada vez mais dotado de conhecimentos técnicos e científicos, execute funções que levem à criação de ideias, coisas e procedimentos. Tanto que a legislação tratou do trabalho intelectual, como objeto da relação de emprego, nos artigos 88 a 93, da Lei 9.279/96 (propriedade industrial), e artigos 4º e 5º da Lei 9.609/2008 ( software ). Como não há previsão legal específica, se o know-how originar-se em razão da dinâmica contratual [7] ou por questões circunstanciais, com ou sem utilização de equipamentos do empregador, várias são as implicações: A quem caberia respectivo direito intelectual? Ao empregado, porque criou a obra? E se for criado fora da dinâmica contratual, mas com utilização de equipamentos do empregador? Sem equipamentos do empregador, mas no ambiente laboral? Know-how no contrato de trabalho: aplicação analógica da Lei de Patentes Plausível que ao Know-how aplique-se norma relativa ao instituto jurídico mais semelhante: Lei de Patentes (9.279/96). Irrelevante que existam elementos contratuais, de modo acidental ou complementar, referentes ao software (Lei 9.609/08), porque a analogia se dá pelo direito intelectual e não pelo contratual [8]. O empregador pode estipular condições contratuais relativas a esse bem, observando-se os limites trabalhistas aplicáveis à espécie (artigo 444 da CLT). Know-how no contrato de trabalho e direito de software Discute-se se o know-how absorveria o direito de software – ou vice-versa -, ao menos no tocante ao fato gerador do direito intelectual. Parece mais lógico identificar o direito em questão a partir de seu conjunto. No caso de transmissão, mediante contrato, o direito de software está embutido, mas, especificamente quanto este elemento, deverá ser observado contrato de licença, nos termos do artigo 9º, da Lei 9.610/98. Tanto é possível destacar o software , sem perder a noção de conjunto, que o criador pode pactuar transmissão de know-how , reservando direito à licença do software . Sutil o detalhe. Num exemplo de criação de loja virtual: Tirando o direito de software , restariam procedimentos técnicos administrativos, em concreto, cuja técnica de aplicação é abstrata, isto é, de domínio do empregado. O conjunto não é patente, nem software , menos ainda direito autoral (Lei 9.610/98). O que sobrou? Know-how . Know-how, contrato de trabalho e franquia Não só no campo tecnológico que o know-how pode surgir. Grandes empresas de fast-food, para negociar franquias, utilizam know-how , que, em muitos casos, é criado pelos próprios empregados. Prevenção do passivo trabalhista Tratando o know-how de direito eminentemente contratual, cabe ao empregador redobrado cuidado na elaboração do contrato de trabalho, especificando, desde logo, os efeitos do labor intelectual. Mesmo que a criação intelectual seja inerente à execução das atividades, convém estabelecer cláusulas especificando direitos e obrigações, do empregado e do empregador, que daí possam advir. Se a criação intelectual se dá sem a prévia contratação, melhor medida é a mediação/conciliação para solução do problema. Consulte também: Direito de software e contrato de trabalho Cessão de Marcas. Sucessão e Responsabilidade Trabalhista Invenção e propriedade Industrial no contrato de trabalho Terceira Revolução Industrial e Automação do Trabalho Notas ________________________________________ [1] Considerado atípico, embora autorizado pelo art. 425, do Código Civil. [2] Martins, Fran. Contratos e obrigações. Ed. rev. e aum. Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 497 a 506. [3] Idem, ibidem, mesma p. [4] Idem, ibidem, mesma p. [5] Idem, ibidem, mesma p. [6] Idem, ibidem, mesma p. [7] Por que, se em função do contrato de trabalho, faz parte de sua própria execução, respeitado o disposto no artigo 456, parágrafo único, da CLT. [8] Aplicação da lei de direitos autorais (9.610/98) está afastada porque não cuidou do direito intelectual oriundo da relação de trabalho. Imagem : pixabay/criação/www.slon_pics Direitos reservados nos termos da Licença Creative Commons

O contrato de franquia é regido pela Lei 13.966/19, cujo conceito pode assim ser sintetizado: Contrato pelo qual um franqueador autoriza, mediante remuneração, o franqueado a usar e distribuir suas marcas e outros objetos de propriedade intelectual, incluindo implantação e administração do negócio . Franqueador é quem cede a marca ou patente, além dos respectivos produtos; franqueado é quem os explorará. Contrato de franquia vs. vínculo de emprego O artigo 1º da lei supramencionada diz o óbvio ao excluir a possibilidade de vínculo de emprego na relação entre franqueador e franqueado. Distintos contratos não poderiam gerar o mesmo tipo de prestação de serviços. O que difere o labor do empregado com a atuação do franqueado é que não há, em relação ao franqueador, dependência econômica, que é o elemento característico do contrato de emprego. Além de o franqueado ser pessoa jurídica, o que, por si só, impossibilitaria vínculo empregatício com o franqueador, nos termos do artigo 3º da CLT, salvo na hipótese de fraude (contratação de fictícia pessoa jurídica). Contrato de franquia: características As características da franquia estão descritas no art. 2º da Lei 13.966/19, como, por exemplo: necessidade de contrato escrito, descrição do negócio, especificação do investimento, remuneração periódica pelo uso do sistema, marca e propriedade intelectual do franqueador, inclusive know-how , entre outras exigências. A autonomia é elemento fundamental a caracterizar a atividade do franqueado, que, como empresa independente, administrará seu estabelecimento e respectivos empregados. O franqueado é quem assume os riscos da operação comercial, não podendo o franqueador interferir na direção do contrato, a não ser quanto à supervisão da marca, produtos e serviços. Vedada, portanto, a fiscalização do franqueador, em termos trabalhistas, na direção dos negócios do franqueado, conquanto aquele possa ingerir na preservação da qualidade da marca e produtos comercializados, inclusive oferecendo treinamento aos empregados do franqueado, o que é natural, pois aquele possui know-how quanto ao objeto do contrato. Em suma, não pode o franqueador subordinar, dar ordens, dirigir a prestação dos serviços dos empregados do franqueado, sob pena de formar vínculo de emprego direto com esses trabalhadores. O que invariavelmente leva esse tipo de contrato à apreciação dos tribunais trabalhistas é a fraude : o contratante (franqueador) formaliza franquia, mas subordina o franqueado, ou, ainda, subcontrata, como se fosse “terceirização”, para direcionar mão de obra à outra empresa, mas continua a dirigir trabalhadores supostamente contratados pelo franqueado. Vínculo de emprego é contrato realidade , devendo prevalecer os fatos em detrimento de formalizações. Havendo fraude, ou seja, contrato de emprego mascarado por “falsa franquia”, incidirá a nulidade prevista no artigo 9º da CLT: Contrato de franquia e responsabilidade trabalhista A ingerência indevida do franqueador nas atividades do franqueado pode gerar responsabilidade solidária de ambos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT, em face dos empregados do franqueado, podendo, inclusive, ser considerado grupo econômico. Isso porque, nesse caso, há influência nos contratos de emprego, colocando o franqueador como partícipe de eventual ilícito, contratual ou extracontratual, podendo incidir, também, o disposto no artigo 942 do Código Civil. Responsabilidade subsidiária (Súmula 331, IV, do TST) A jurisprudência tradicional rejeitava a possibilidade de o franqueador responder pelos créditos dos empregados do franqueado, com fulcro na responsabilidade subsidiária, porque a Súmula 331, IV, do TST, diz respeito à terceirização dos serviços, hipótese que não se confunde com a franquia. No entanto, parte da jurisprudência vem reconhecendo essa responsabilidade (nesse sentido, o acórdão do TST: ROAR 71.337/2002 ). Notadamente porque os empregados do franqueado, na inadimplência deste, ficariam sem a possibilidade de receber seus créditos, o que iria de encontro ao princípio do valor social do trabalho , nos termos do artigo 1º, IV, da CF. Mas a matéria não é pacífica: TST: RR 1356/2000-012-02-00.8 Evidente que o direito de ressarcimento ao franqueador, em face do franqueado, estaria garantido, nos termos da lei civil. Dever de cautela do franqueador Caberia ao franqueador verificar a idoneidade do franqueado, sua capacidade financeira, até como requisito de contratação, sob pena de lhe ser imputada culpa in vigilando . O dever geral de cautela é inerente ao contrato de emprego, que, combinado com o princípio da alteridade , impõe ao contratante obrigação de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, sob pena de se configurar a conduta omissiva prevista no art. 186 do Código Civil. Nesse contexto, o prejuízo pela insolvência empresarial não pode ser transferido ao trabalhador. Também, porque este não participa dos respectivos lucros e a força de trabalho (contrato de atividade) não pode ser reposta O Direito do Consumidor resolveu esse problema considerando objetiva e solidária a responsabilidade entre fornecedor, fabricante, produtor, construtor, importador, comerciante ou prestador de serviços, sendo, portanto, indiferente ao consumidor a caracterização do franqueador e franqueado como fornecedores ou prestadores dos serviços. Assim, a jurisprudência: APELAÇÃO - FRANQUIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADIMPLEMENTO PARCIAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA CLÁUSULA PENAL READEQUAÇÃO (CC, ART.413) - Pretensão de reforma dos capítulos da sentença que condenaram solidariamente a franqueadora pelo inadimplemento contratual e que estabeleceram, como base de cálculo da cláusula penal contratual, o valor integral do contrato. Cabimento parcial Franqueadora que integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, par. único, e 25, §1º), devendo responder solidariamente por defeitos nos serviços prestados pelas franqueadas Precedente do STJ Multa contratual que deve ser reduzida proporcionalmente, para que abranja a penas o valor correspondente à parcela não prestada dos serviços (CC, art. 413). Recurso parcialmente provido [TJSP, processo n. 1019441-20.2017.8.26.0562, apelação cível, 13ª Câmara de Direito Privado, Relatora Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, publicação do acórdão: 23/08/2008]. A nova Lei de Franquia, ao destacar inexistência de relação de consumo nesse tipo de contratação, refere-se à relação jurídica entre franqueador e franqueado, razão pela qual o entendimento supramencionado se mantém. Prevenção do passivo trabalhista Embora a Lei de Franquia seja expressa quanto à delimitação de uma série de direitos e obrigações, é importante que esse contrato seja específico quanto aos limites de fiscalização do franqueado pelo franqueador. Algumas medidas de precaução que o franqueador pode tomar: • Estabelecer métodos de verificação quanto à idoneidade do franqueado; • Evitar ingerências na atividade do franqueado que caracterize subordinação, inclusive quanto aos empregados deste; • Contratação de seguro, como expressamente previsto na Lei de Franquia, sobretudo para débitos trabalhistas. • Especificação contratual de direito de regresso Imagem pixabay/sushi/qimono Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons

Dispõe o artigo 940 do Código civil: Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Nos termos do art. 769 da CLT, o direito processual comum só tem aplicação no processo do trabalho: se a CLT for silente sobre a matéria; se compatível com o direito processual do trabalho, inclusive princípios. O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe (grifamos): Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A CLT é silente sobre a matéria. A repetição de indébito seria compatível com princípios de direito processual do trabalho? Repetição de indébito: natureza jurídica O conceito da repetição de indébito - mais precisamente, sua natureza jurídica - é dado pelo próprio artigo 940 do Código Civil. Trata-se da demanda por dívida já paga, no todo ou em parte, sem que o credor ressalve quantias recebidas, ou peça mais do que devido. Nessas condições, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. A norma civilista em questão, além de tratar de direito material, considera a igualdade das partes, típica nesse âmbito do direito. O mesmo não ocorre no processo do trabalho, em que a regra é a diferença econômica entre as partes, especialmente no jus postulandi : o empregado postula no judiciário sem a assistência de advogado, embora, reconheça-se, essa possibilidade seja cada vez mais rara. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de se configurar manifesta má-fé da parte, como pressuposto da repetição do indébito. Sendo silente a CLT sobre essa matéria, mais plausível a aplicação da sanção prevista nos artigos 79, e seguintes do CPC, caso o autor demande por dívida já paga ou pedir mais que o devido. Verba trabalhista possui natureza alimentar, só admitindo compensação nos termos do art. 767 da CLT, c/c Súmula 18 do TST, restrita a verbas trabalhistas e, ainda assim, sobre parcelas idênticas. Não se admite, portanto, compensação a título de sanção, o que ocorreria na repetição de indébito. Por outro lado, a má-fé processual não pode ser tolerada pelo Direito. Tratando-se de postulação com a assistência de procurador, o litigante tem plena condição de avaliar condições que envolvem a formulação de pedido judicial, se tem, ou não, direito ao que se pede. Sanção por litigância de má-fé: aplicabilidade no processo do trabalho Os incisos “I” a “III, do artigo 80 do CPC, amoldam-se melhor ao problema, resultando daí o fundamento para sanção ao litigante que formula pretensão de verba já paga. Não caberia, em principio, sanção por “pedir mais do que lhe seja devido”, sob pena de esbarrar no princípio constitucional do direito de ação (a não ser nas hipóteses dos incisos “II” e “III”, do referido art. 80 do CPC), porque esse contexto é típico do direito material civil, especialmente em relação a litígios comerciais. A sanção do art. 81 do CPC pode ser até mais inibidora que a repetição do indébito, mesmo porque pode ser aplicada a ambas as partes, o que mantém o caráter democrático e contraditório que deve nortear o direito processual. Dependerá do caso concreto. Sucumbência trabalhista De todo modo, a Nova CLT disciplinou a sucumbência no processo trabalho, de tal sorte que o pedido indevido conduzirá à condenação do reclamante nos honorários de advogado, conforme disposto no artigo 791-A da CLT. Repetição do indébito em dobro A jurisprudência civilista, sobretudo no Juizado Especial Cível, é majoritária no sentido de que a dobra da repetição do indébito só tem cabimento se houver má-fé do demandante. A tese é discutível. A interpretação literal do artigo 940 do CC revela sentido mais específico. Ou seja, a dobra será considerada se o demandante pedir por dívida já paga; se o demandante pedir mais do que for devido, a solução é a repetição do indébito simples, isto é, o equivalente do que dele exigir. Assim, resume-se: Se o autor pede mais que o devido, a repetição do indébito será simples; Se o autor pede por dívida já paga, a repetição do indébito será em dobro. Imagem: pixabay/tribunal/mbraun0223 Direitos autorais reservados nos termos da Licença Creative Commons

Para que haja efetiva sucessão de empregadores é necessária mudança na estrutura jurídica da empresa, além da continuidade na atividade empresarial iniciada pelo cedente e que passa a ser realizada pelo cessionário. A inexistência de continuidade dos contratos de trabalho com o cessionário não é impeditiva à sucessão.
